A psicoterapia brasileira atravessa uma crise silenciosa, mas profunda, que compromete sua eficácia clínica, sua legitimidade social e seu futuro como ciência aplicada. Embora o Brasil conte com uma vasta rede de serviços psicológicos, universidades renomadas e um número expressivo de psicoterapeutas, há um distanciamento crescente entre a prática clínica e os avanços científicos da área.
Em outras palavras, há uma desconexão preocupante entre o que se sabe que funciona e o que efetivamente se pratica.
Essa crise da psicoterapia no Brasil é multifatorial, porém alguns eixos são especialmente críticos:
- A resistência à adoção de práticas baseadas em evidências;
- A predominância de abordagens sem respaldo empírico, especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS), e;
- A escassez de pesquisas clínicas nacionais de qualidade.
A ausência de um sistema unificado de avaliação de evidências e uma formação acadêmica ainda centrada em tradições teóricas pouco atualizadas completam um cenário que clama por transformação urgente.
Diante desse panorama, proponho discutir criticamente os fatores científicos que alimentam essa crise, com foco na realidade brasileira. Partindo de uma análise criteriosa das falhas estruturais e culturais do campo, apresento diretrizes para a modernização da psicoterapia, com ênfase na adoção de uma prática clínica ética, eficaz e cientificamente fundamentada.
Ótimo. A seguir, apresento a primeira seção do desenvolvimento do artigo, com foco na resistência à psicoterapia baseada em evidências no Brasil.
Resistência à psicoterapia baseada em evidências: um obstáculo persistente
A resistência à psicoterapia baseada em evidências no Brasil constitui um dos principais vetores da crise da psicoterapia. Essa resistência não é apenas uma questão de desinformação; ela reflete um embate ideológico e cultural enraizado nas tradições acadêmicas e clínicas da Psicologia brasileira.
Por que essa resistência persiste?
- Formação com viés teórico, pouco voltada à experimentação;
- Confusão entre “protocolo” e “engessamento clínico”;
- Medo de desumanização do processo terapêutico;
- Falta de acesso a literatura científica atualizada.
Mesmo com o crescente corpo de dados que demonstra a eficácia de abordagens como a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e Psicoterapia Interpessoal (TIP), muitos profissionais mantêm-se presos a modelos não validados empiricamente.
Diversos fatores sustentam essa postura defensiva frente às práticas baseadas em evidências. Em primeiro lugar, a formação acadêmica ainda prioriza, em muitas universidades, abordagens teóricas sem respaldo empírico, como a psicanálise e o humanismo clássico, sem oferecer uma introdução rigorosa ao raciocínio científico e à análise de dados clínicos.
Leia também:
Consequentemente, os profissionais chegam ao mercado de trabalho com pouca ou nenhuma familiaridade com métodos experimentais e critérios de validação empírica (Moreira & Araújo, 2021).
Por outro lado, observa-se uma confusão conceitual generalizada sobre o que significa adotar uma prática baseada em evidências. Muitos acreditam, equivocadamente, que ela implica seguir protocolos rígidos ou eliminar o espaço da subjetividade clínica.
Contudo, como define a American Psychological Association (APA), a psicoterapia baseada em evidências é a integração da melhor evidência científica disponível com a expertise clínica do psicoterapeuta e as preferências, características e valores do paciente (APA, 2006).
Essa incompreensão alimenta o temor de que a ciência venha a desumanizar a clínica, o que não corresponde à realidade. Ao contrário, uma prática psicoterapêutica embasada em dados visa justamente aprimorar a eficácia do cuidado, ao alinhar as intervenções com aquilo que tem maior probabilidade de aliviar o sofrimento psíquico, alcançar equilíbrio emocional e iniciar psicoterapia com maior chance de sucesso terapêutico.
O SUS e a perpetuação de práticas psicoterapêuticas não científicas
A psicoterapia oferecida pelo SUS espelha, de forma ampliada, a crise da psicoterapia no Brasil. A despeito dos esforços para ampliar o acesso à saúde mental, a escolha das abordagens psicoterapêuticas adotadas no serviço público revela uma clara dissociação entre política pública e ciência.
Abordagens sem respaldo empírico robusto — como a psicanálise, o reprocessamento por movimentos oculares (EMDR) e as chamadas “práticas integrativas” — seguem sendo amplamente utilizadas, enquanto métodos com eficácia comprovada permanecem subutilizados.
A escolha dessas abordagens ocorre, muitas vezes, por conveniência institucional, tradição histórica ou escassez de profissionais com formação em terapias validadas. Entretanto, a consequência é grave: populações em situação de vulnerabilidade acabam sendo atendidas com métodos cuja eficácia permanece controversa ou insuficientemente comprovada.
O direito à saúde mental de qualidade, previsto pela Constituição Federal, é comprometido.
O problema não está na existência de diferentes modelos teóricos, mas na ausência de critérios técnicos e científicos para determinar quais intervenções devem ser ofertadas como prioridade na rede pública.
A falta de diretrizes claras de avaliação da eficácia dos tratamentos permite que práticas como a constelação familiar, sem respaldo científico, ocupem espaço em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), distorcendo o papel da psicoterapia e deslegitimando o campo perante a sociedade.
Você sabia que pode agendar uma consulta comigo em poucos minutos?
Essa realidade reforça a urgência de políticas de saúde baseadas em evidências. É necessário que os gestores públicos e conselhos profissionais estabeleçam parâmetros mínimos de eficácia, baseados em revisões sistemáticas, metanálises e guias internacionais, como os da APA, NICE e OMS, para selecionar as práticas clínicas que comporão o cuidado psicoterapêutico no SUS.
Investir em saúde mental significa, acima de tudo, oferecer tratamentos que funcionem.
A fragilidade na produção científica nacional
A fragilidade da produção científica nacional em psicoterapia é um dos elementos mais comprometedoras da crise da psicoterapia no Brasil. Sem estudos clínicos robustos, realizados com amostras locais e sensíveis à diversidade sociocultural brasileira, torna-se extremamente difícil validar, adaptar ou desenvolver intervenções que sejam verdadeiramente eficazes para nossa população.
A consequência direta é a importação acrítica de modelos internacionais ou, por outro lado, a perpetuação de abordagens teóricas desvinculadas da realidade empírica.
Os dados sobre a produção científica em psicoterapia no país são alarmantes. De acordo com um levantamento da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), apenas uma fração das dissertações e teses na área da Psicologia tem foco na avaliação empírica de intervenções clínicas.
Pior ainda, muitas dessas pesquisas não utilizam delineamentos experimentais rigorosos, como ensaios clínicos randomizados (RCTs), o padrão ouro da ciência aplicada (Fisher & O’Donohue, 2006).
Essa escassez de evidência nacional tem dois efeitos nefastos:
- Impede a construção de uma base científica local que justifique e direcione políticas públicas eficazes;
- Mina a formação científica dos futuros psicoterapeutas, que permanecem reféns de literatura estrangeira ou de teorias sem sustentação empírica
Diante desse cenário, torna-se urgente fomentar uma cultura de pesquisa aplicada em psicoterapia. Isso implica não só investir em capacitação metodológica de estudantes e docentes, mas também garantir financiamento público e privado para pesquisas que avaliem a eficácia de tratamentos em contextos reais.
Só assim será possível experimentar psicoterapias validadas, avaliar sintomas com precisão e descobrir intervenções culturalmente ajustadas às necessidades da população brasileira.
A fragmentação dos sistemas de classificação de evidências
Um fator pouco discutido, mas decisivo para a crise da psicoterapia no Brasil, é a ausência de um sistema unificado e nacional de classificação das evidências clínicas.
Atualmente, os psicoterapeutas brasileiros têm à disposição múltiplas referências internacionais, como o NICE (Reino Unido), a Divisão 12 da APA (EUA) e os manuais da OMS e da CID-11, cada uma com critérios distintos para julgar o que é uma intervenção empiricamente validada. Essa multiplicidade gera confusão e abre espaço para interpretações subjetivas.
A inexistência de um padrão consensual de classificação permite que diferentes abordagens reivindiquem um suposto respaldo empírico, mesmo quando este é frágil ou mal interpretado.
Na prática, isso dificulta a comparação entre intervenções e compromete a tomada de decisão clínica e institucional. Sem um guia normativo nacional, os profissionais ficam à mercê da própria formação, muitas vezes lacunar, e das pressões ideológicas dos seus respectivos grupos teóricos.
Além disso, a falta de uma classificação padronizada de evidências contribui para a disseminação de práticas pseudocientíficas. Técnicas como regressão a vidas passadas, reiki ou constelações familiares acabam sendo incluídas em serviços públicos e privados, sob a justificativa de uma “validação alternativa” ou “evidência anedótica”.
Essa permissividade metodológica desvirtua o campo da psicoterapia e fragiliza seu reconhecimento como prática de saúde legítima.
O Brasil precisa urgentemente desenvolver um sistema de classificação de evidências em psicoterapia, adaptado ao seu contexto cultural e científico. Esse sistema deve integrar as diretrizes internacionais com parâmetros nacionais, envolver sociedades científicas, conselhos profissionais e instituições de ensino.
Somente com critérios claros será possível alinhar a prática clínica com o melhor da ciência disponível, descobrir psicoterapias eficazes e combater instabilidade emocional com segurança e responsabilidade.
A ruptura entre teoria e prática clínica
A distância entre teoria psicológica e prática clínica é um dos aspectos mais crônicos da crise da psicoterapia no Brasil. Em muitas formações acadêmicas, os alunos são expostos a um currículo teórico descolado das evidências empíricas e das demandas clínicas reais.
Como resultado, profissionais chegam à clínica despreparados para aplicar intervenções baseadas em ciência, e muitas vezes sequer compreendem a importância desse vínculo entre conhecimento teórico e eficácia prática.
Essa lacuna compromete a capacidade do psicoterapeuta de avaliar, selecionar e implementar estratégias de tratamento validadas. Quando a teoria ensinada não é testada empiricamente, a prática se torna intuitiva, subjetiva e, por vezes, ineficaz.
Isso contribui para um modelo de atuação centrado na crença pessoal do psicoterapeuta, ao invés de nas necessidades do paciente e nos dados clínicos disponíveis (Dozois & Mikail, 2012).
Por outro lado, práticas psicoterapêuticas contemporâneas com base sólida em dados — como a Terapia Cognitivo-Comportamental, a Terapia de Aceitação e Compromisso e a Terapia de Resolução de Problemas — permanecem marginalizadas em muitos currículos.
O desprezo por metodologias experimentais e o foco exagerado em escolas clássicas impedem que os estudantes desenvolvam habilidades essenciais como a formulação de casos, o raciocínio clínico baseado em hipóteses e a mensuração sistemática de resultados terapêuticos.
Superar essa ruptura exige uma reforma profunda na formação em Psicologia. É preciso revisar e integrar os conteúdos teóricos com a prática clínica supervisionada, com base em protocolos bem estabelecidos e adaptados ao contexto brasileiro.
Aprofundar o autoconhecimento teórico é essencial para transformar comportamentos clínicos improdutivos em ações alinhadas à ciência, aumentando a efetividade do tratamento e fortalecendo o papel da psicoterapia como ciência da mudança psicológica.
Ausência de mensuração, ausência de progresso
A ausência de instrumentos padronizados para avaliação de resultados compromete diretamente a evolução da psicoterapia no Brasil. Sem dados objetivos, é impossível saber se uma intervenção está funcionando, para quem, em quais condições e com quais efeitos colaterais.
Isso não apenas fragiliza a prática clínica, como também impede a construção de uma cultura de melhoria contínua.
Apesar da existência de ferramentas validadas internacionalmente, como o Outcome Questionnaire (OQ-45), o CORE-OM ou o WHODAS 2.0 da OMS, seu uso ainda é raro na prática cotidiana.
Muitos psicoterapeutas confiam exclusivamente na impressão subjetiva do paciente ou do próprio clínico para inferir progresso. Uma abordagem extremamente limitada e suscetível a vieses cognitivos e emocionais (Hunsley & Mash, 2007).
Essa falta de monitoramento sistemático também dificulta o feedback clínico e a correção de rumos em tempo real. Em um contexto de saúde pública, onde o tempo e os recursos são escassos, não medir resultados é um desperdício inaceitável.
É como administrar medicamentos sem acompanhar seus efeitos ou prescrever óculos sem testar a acuidade visual do paciente. A psicoterapia, enquanto prática de saúde, não pode prescindir da mensuração.
Promover uma cultura de avaliação clínica é uma tarefa estratégica para o fortalecimento da psicoterapia baseada em evidências no Brasil. Isso inclui:
- A capacitação de profissionais para uso de instrumentos validados;
- A inclusão de módulos de avaliação de resultados nos cursos de graduação e pós-graduação e;
- O estabelecimento de indicadores mínimos de qualidade para serviços públicos e privados.
Avaliar sintomas com precisão é o primeiro passo para aliviar sofrimento com responsabilidade e eficiência.
A proliferação de práticas sem respaldo científico
A crescente presença de práticas não científicas, ou mesmo pseudocientíficas, no campo da psicoterapia representa um dos sintomas mais evidentes da crise da psicoterapia no Brasil.
Técnicas como constelação familiar, coaching motivacional, regressão a vidas passadas, entre outras, têm sido incorporadas à rotina de clínicas e serviços públicos, muitas vezes sob a chancela de autoridades locais e com financiamento público.
Essas abordagens, embora possam oferecer algum conforto subjetivo, carecem de evidências empíricas rigorosas quanto à sua eficácia, segurança e aplicabilidade clínica. A constelação familiar, por exemplo, não possui base teórica sólida nem respaldo em estudos randomizados, apesar de ser oferecida como política pública em diversos municípios brasileiros.
Isso fere diretamente os princípios da psicoterapia baseada em evidências e expõe os pacientes a intervenções potencialmente ineficazes ou até nocivas (Moreira & Araújo, 2021).
Além disso, a popularização dessas práticas interfere na percepção pública da psicoterapia como uma ciência. Quando métodos sem validação ocupam o mesmo espaço, simbólico ou institucional, que intervenções comprovadas, instala-se uma lógica de relativismo clínico que ameaça o estatuto ético da profissão.
A mensagem transmitida à sociedade é que “tudo funciona, depende do ponto de vista”, o que mina a confiança pública na psicoterapia como ciência da saúde mental.
É fundamental que os conselhos profissionais e instituições formadoras assumam uma postura mais firme contra a pseudociência. Isso inclui fiscalizar a prática clínica e investir em campanhas públicas de esclarecimento.
Receber suporte psicoterapêutico não pode ser um salto no escuro — deve ser um processo ancorado em responsabilidade técnica, evidência científica e compromisso com a eficácia.
Formação acadêmica desatualizada
A formação acadêmica em Psicologia no Brasil, em muitas instituições, permanece ancorada em paradigmas ultrapassados e teorias não validadas empiricamente.
Isso contribui decisivamente para a perpetuação da crise da psicoterapia no país, uma vez que os profissionais são formados com pouca familiaridade com os princípios da ciência clínica, da avaliação de eficácia e da tomada de decisão baseada em evidências.
Muitos cursos de graduação ainda priorizam modelos teóricos clássicos, especialmente a psicanálise, em detrimento de abordagens contemporâneas validadas. A ênfase em disciplinas filosóficas, históricas e humanistas não é, em si, um problema; o que critico é a ausência de equilíbrio curricular, onde conteúdos científicos e metodológicos são negligenciados ou mal integrados.
Como resultado, os estudantes saem da universidade sem saber aplicar ou mesmo compreender intervenções comprovadamente eficazes (Dozois & Mikail, 2012).
Além disso, raramente se ensina aos futuros psicoterapeutas como ler criticamente um artigo científico, conduzir uma avaliação baseada em instrumentos padronizados ou adaptar um protocolo à realidade do paciente.
A ausência dessas competências torna o psicoterapeuta vulnerável a modismos, retóricas vazias e práticas não fundamentadas. A clínica se torna então um espaço de reprodução teórica, e não de intervenção responsável e eficaz.
Atualizar a formação acadêmica é um imperativo ético, científico e social. É necessário que as Diretrizes Curriculares Nacionais sejam revistas para incluir conteúdos de psicoterapia baseada em evidências, metodologia de pesquisa, estatística aplicada, análise de dados clínicos e avaliação de desfechos.
Somente com uma base sólida os futuros profissionais estarão preparados para transformar a clínica em um espaço de cuidado real, capaz de aliviar sofrimento e fortalecer vínculos com respaldo empírico.
Falta de incentivo à pesquisa aplicada
A psicoterapia no Brasil sofre não apenas de uma formação desatualizada, mas também da ausência de um ecossistema robusto de apoio à pesquisa aplicada. Mesmo quando há profissionais dispostos a investigar a eficácia de intervenções clínicas, esbarram em um sistema que prioriza a pesquisa básica, desvaloriza os ensaios clínicos e oferece pouco ou nenhum financiamento para investigações práticas voltadas à realidade da saúde mental brasileira.
Essa negligência institucional tem efeitos duradouros. Sem investimento:
- Os centros universitários carecem de infraestrutura para conduzir estudos controlados;
- Os professores orientadores não conseguem sustentar linhas de pesquisa consistentes, e;
- Os alunos desmotivam-se diante da dificuldade de transformar boas ideias em evidência concreta.
Assim, perpetua-se a dependência de protocolos internacionais, pouco adaptados à diversidade cultural, social e econômica do Brasil (Fisher & O’Donohue, 2006).
Além disso, a pouca valorização da pesquisa aplicada distancia a psicologia clínica da formulação de políticas públicas baseadas em dados. Intervenções são escolhidas por tradição ou ideologia, e não por eficácia demonstrada.
Essa lacuna se torna especialmente grave no SUS, onde a alocação de recursos deveria priorizar métodos efetivos, especialmente para populações vulneráveis. Sem evidência local, a tomada de decisão permanece frágil, subjetiva e, muitas vezes, ineficaz.
É urgente criar mecanismos de fomento específicos para a pesquisa aplicada em psicoterapia. Isso inclui editais públicos voltados a estudos clínicos, bolsas de iniciação científica para projetos em contextos ambulatoriais, parcerias entre universidades e serviços de saúde e valorização da produção científica no campo clínico em avaliações da CAPES e do CNPq.
Aumentar a produção de conhecimento prático é condição para resolver conflitos internos do campo e alinhar a psicoterapia brasileira às melhores práticas globais.
Palavras finais
A crise da psicoterapia no Brasil não é apenas uma crise teórica ou institucional; é, acima de tudo, uma crise ética e científica. Quando práticas desprovidas de evidência substituem intervenções comprovadas, e quando a formação profissional ignora os avanços da ciência psicológica, o que está em jogo não é apenas o prestígio da profissão.
Identifiquei os principais fatores que alimentam essa crise:
- A resistência à psicoterapia baseada em evidências;
- A prevalência de abordagens não validadas no SUS;
- A escassez de pesquisas clínicas nacionais de qualidade;
- A ausência de um sistema unificado de classificação de evidências;
- A desconexão entre teoria e prática;
- A dificuldade de avaliação dos resultados terapêuticos;
- A proliferação de pseudociência;
- A formação acadêmica desatualizada; e
- A falta de apoio institucional à pesquisa aplicada.
Cada um desses fatores representa um obstáculo à construção de uma psicoterapia eficaz, legítima e socialmente relevante. Frente a esse diagnóstico, proponho diretrizes para a modernização da psicoterapia no Brasil:
| Problema | Diretriz |
|---|---|
| Resistência à prática baseada em evidências | Reformular currículos com ênfase em ciência clínica e alfabetização científica |
| Abordagens não validadas no SUS | Estabelecer políticas públicas com base em guias internacionais de boas práticas |
| Falta de sistema unificado de evidências | Criar um sistema nacional de classificação de intervenções psicoterapêuticas |
| Escassez de pesquisas nacionais | Fomentar a pesquisa aplicada com financiamento específico e articulação com o SUS |
| Avaliação terapêutica deficiente | Tornar obrigatória a mensuração de resultados com instrumentos padronizados |
| Presença de pseudociência no campo | Regulamentar e fiscalizar o uso do termo “psicoterapia” com base em critérios científicos |
| Formação acadêmica desatualizada | Integrar teoria e prática com foco em intervenção, supervisão e base empírica |
Modernizar a psicoterapia brasileira exige coragem institucional, rigor científico e compromisso clínico. Não se trata de substituir tradições ou anular singularidades, mas de garantir que toda prática oferecida em nome da Psicologia cumpra seu papel: aliviar sofrimento com responsabilidade, transformar comportamentos com eficácia e ajudar a população brasileira a alcançar equilíbrio e bem-estar psicológico.
Que este diagnóstico crítico seja um chamado à ação coletiva. Psicoterapeutas, docentes, estudantes, pesquisadores e gestores precisam unir esforços para reconfigurar o campo e torná-lo digno da ciência que representa e da sociedade que serve.
Referências
- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Evidence-based practice in psychology. American Psychologist, v. 61, n. 4, p. 271–285, 2006.
- DOZOIS, David J. A.; MIKAIL, Sam. Report of the CPA Task Force on Evidence-Based Practice of Psychological Treatments. Ottawa: Canadian Psychological Association, 2012.
- FISHER, Jane E.; O’DONOHUE, William T. (Ed.). Practitioner’s guide to evidence-based psychotherapy. New York: Springer, 2006.
- HUNSLEY, John; MASH, Eric J. Evidence-based assessment. Annual Review of Clinical Psychology, v. 3, p. 29–51, 2007.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Censo da Educação Superior 2020: notas estatísticas. Brasília: INEP, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inep. Acesso em: 10 mai. 2025.
- MOREIRA, Patrícia; ARAÚJO, Gabriel. Psicoterapia baseada em evidências no Brasil: desafios e perspectivas. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 30–44, 2021.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. CID-11: Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 11. ed. Genebra: OMS, 2024. (Guia de referência).
- SOCIETY OF CLINICAL PSYCHOLOGY (APA Division 12). Psychological treatments. 2021. Disponível em: https://www.div12.org/treatments/. Acesso em: 10 mai. 2025.
- SOUTH EAST EBP GROUP. Evidence-Based Practice: a practice manual. Waterford: South East EBP Group, 2014.
- THE AUSTRALIAN PSYCHOLOGICAL SOCIETY. Evidence-based psychological interventions in the treatment of mental disorders. 4. ed. Melbourne: APS, 2018.


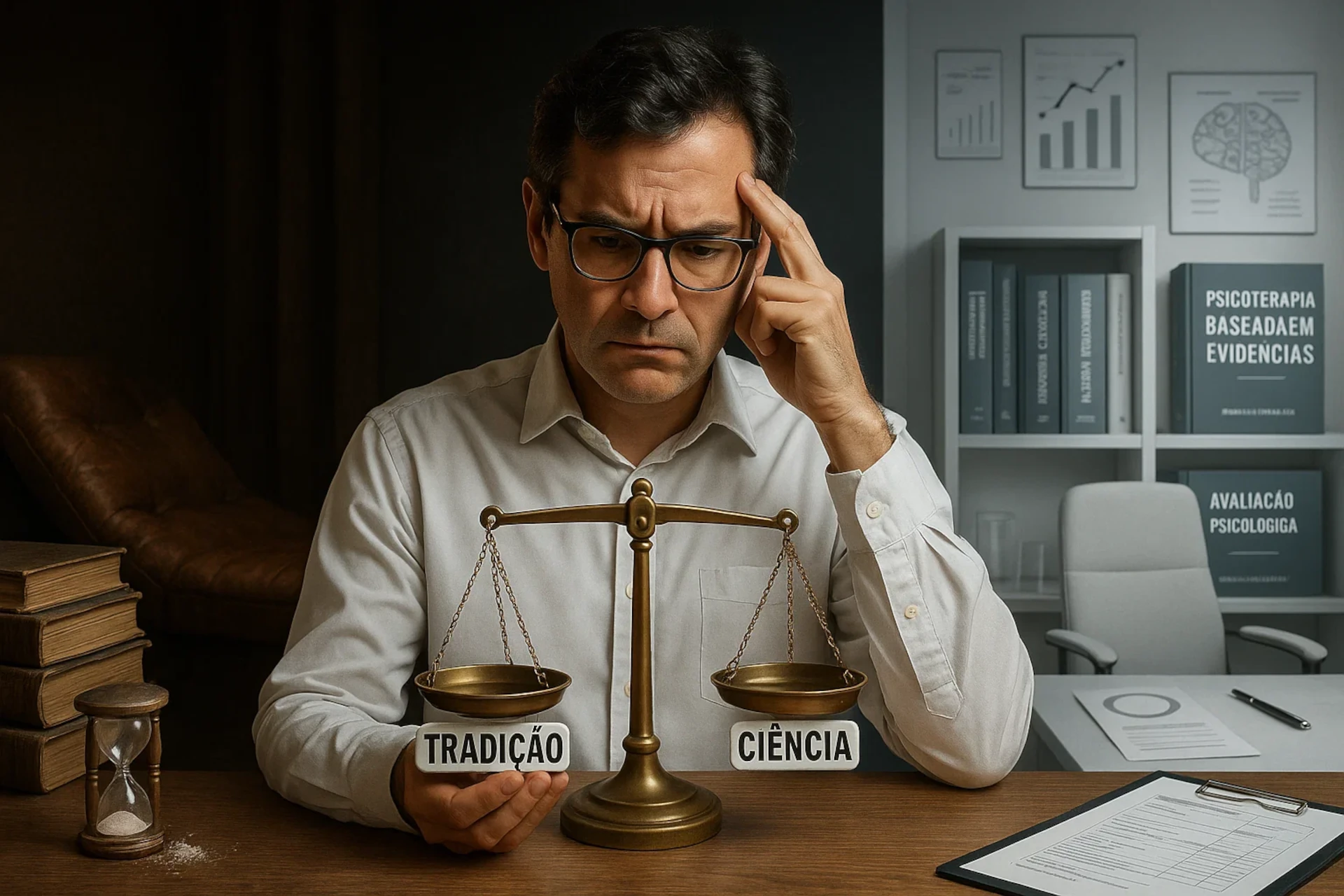
Deixe um comentário